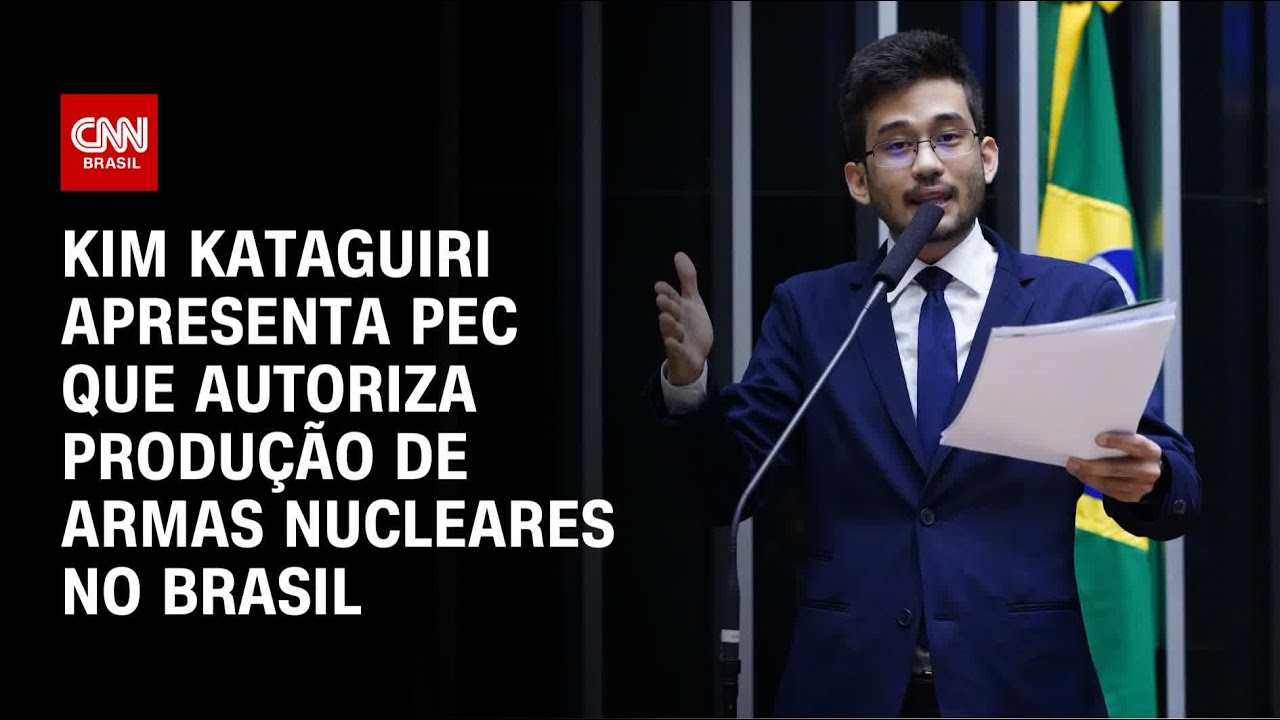Em uma noite chuvosa de fevereiro de 2015, no terraço de um clube noturno de luxo em Chisinau, a capital da Moldávia, o ar carregava não só o som pulsante de música eletrônica e o aroma de sushi, mas também uma ameaça invisível e letal. Valentin Grossu, um contrabandista de meia-idade com olhos frios e um sorriso calculado, inclinou-se sobre a mesa de metal úmida e sussurrou para seu interlocutor: “Você pode fazer uma bomba suja com isso. Seria perfeito para o Estado Islâmico. Se você tiver conexão com eles, o negócio flui sem problemas.” O material em questão? Césio radioativo, suficiente para contaminar quarteirões inteiros de uma cidade, vendido por 2,5 milhões de euros. O “cliente” era, na verdade, um informante da polícia moldava, treinado pelo FBI, vestindo uma camisa com microfones embutidos e fingindo ser um emissário do califado jihadista. Enquanto Grossu gesticulava animado, descrevendo um estoque “enorme” guardado por um oficial aposentado da FSB – a agência de inteligência russa –, ele não imaginava que, poucas semanas depois, seria algemado em flagrante, com uma amostra do veneno radioativo em um frasco na mão. Mas o fornecedor principal? Desaparecera como fumaça, levando consigo o resto do carregamento. Esse episódio, longe de ser isolado, expõe as veias expostas do tráfico global de materiais nucleares: uma rede sombria que entrelaça crime organizado, ex-agentes de inteligência e extremistas, transformando o colapso da União Soviética em um legado de proliferação que assombra o mundo até hoje.
A Moldávia, esse enclave esquecido na Europa Oriental, não é mero palco de uma ópera de espiões. É um sintoma de uma ferida aberta desde 1991, quando o império soviético desmoronou, deixando para trás arsenais nucleares mal vigiados, laboratórios abandonados e uma legião de oportunistas famintos por lucros rápidos. Naquele ano fatídico, o mundo assistiu ao nascimento de um mercado negro que, em três décadas, se espalharia do Cáucaso ao Sudeste Asiático, do Paquistão ao Irã, envolvendo desde famílias de engenheiros suíços até chefes da Yakuza japonesa. Não se trata de ficção cinematográfica, mas de fatos documentados por agências como o FBI, a DEA e a Interpol, que interceptaram carregamentos de urânio enriquecido, plutônio de grau armamentista e blueprints de bombas atômicas. Esses materiais, se caíssem em mãos erradas – terroristas, regimes rogue ou cartéis criminosos –, poderiam não só enriquecer fortunas ilícitas, mas redefinir o equilíbrio de poder global, transformando “bombas sujas” em armas de pânico urbano ou acelerando programas nucleares clandestinos.
Para entender a profundidade dessa ameaça, é preciso recuar ao alvorecer do caos pós-soviético. Em setembro de 1999, nas colinas acidentadas do Cáucaso georgiano, a poucos quilômetros da fronteira com a Turquia, uma operação discreta das autoridades locais mudou o curso de uma transação que poderia ter ecoado pelo Oriente Médio. Um quilograma de urânio-235, material de baixa enriquecimento mas processável para fins bélicos, foi interceptado em uma estrada poeirenta. Cientistas georgianos confirmaram: o urânio não era nativo, mas roubado de uma usina nuclear ou fábrica de combustível, provavelmente na Rússia ou Ucrânia, onde os controles haviam se evaporado com o fim da URSS. O comprador pretendido? Suspeitas apontavam para o Irã ou o Iraque, nações sob sanções que devoravam qualquer migalha de tecnologia nuclear no mercado negro. Um oficial americano, falando sob condição de anonimato, resumiu o alívio misturado a pavor: “A boa notícia é que os georgianos estavam atentos e agiram. A má é que o urânio chegou ao mercado negro. É crucial manter isso trancado.” (The New York Times, 1999). Naquele momento, ninguém sabia que esse seria apenas o primeiro de uma cascata de incidentes, onde oficiais militares e intermediários usariam rotas ancestrais – do Cáucaso à Turquia, dali ao Golfo Pérsico – para alimentar ambições nucleares.

O vácuo deixado pela dissolução soviética não demorou a ser preenchido por redes mais ambiciosas. Em 2007, enquanto o mundo se recuperava dos ecos do 11 de Setembro, um alerta ecoou de Viena, sede da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). Abdul Minty, enviado sul-africano e voz respeitada na diplomacia nuclear, advertiu: partes da rede global de contrabando liderada por Abdul Qadeer Khan – o “pai da bomba paquistanesa” – ainda pulsavam com vida. Khan, um engenheiro carismático que roubara segredos nucleares da Europa nos anos 1970 para armar o Paquistão, havia montado o maior bazaar atômico da história: centrífugas para enriquecer urânio, autoclaves para forjar componentes de mísseis, blueprints de ogivas chinesas e paquistanesas. Seus clientes? Líbia, Coreia do Norte e Irã, nações que contornavam embargos com voracidade. A rede operava em mais de 30 países, de Dubai a Pretória, e mesmo após a exposição de Khan em 2003 – quando ele confessou sob pressão de Islamabad –, remanescentes persistiam. “Enquanto esses grupos não forem processados e condenados, e puderem lucrar com atividades semelhantes, há um grande perigo potencial”, alertou Minty durante uma reunião do conselho da AIEA. (Reuters, 2007). Na África do Sul, um engenheiro alemão chamado Gerhard Wisser fora condenado por fabricar e exportar autoclaves para a Líbia e o Paquistão, parte do esquema de Khan. Sua pena: 18 anos suspensos, em troca de delação. Mas quantos outros Wissers operavam nas sombras? Os EUA, em declaração oficial, reforçaram: “Futuras redes podem entregar know-how nuclear não só a estados, mas a terroristas.” Era um presságio que se materializaria anos depois, nas ruas de Chisinau.
Essa teia paquistanesa não era um acidente isolado, mas o ápice de uma proliferação que remontava à Guerra Fria. Khan, com sua maleta de designs roubados da URENCO holandesa, não agia sozinho. Fornecedores como a família Tinner, de origem suíça, teciam os fios invisíveis. Entre 2008 e 2010, enquanto o mundo digeria a crise financeira global, uma investigação em Berna desenterrou um escândalo que misturava espionagem, destruição de evidências e interferência diplomática. Friedrich Tinner e seus filhos, Urs e Marco, gerenciavam uma empresa de consultoria que, na superfície, vendia máquinas-ferramenta. Na realidade, infiltrados pela CIA desde 2000, eles abasteciam a rede de Khan com tecnologia para centrífugas – as “máquinas do diabo”, capazes de transformar urânio bruto em combustível para bombas. Blueprints de bombas atômicas chinesas e paquistanesas foram encontrados em seus computadores, designs que circularam para o Irã, Líbia e Coreia do Norte. Um blueprint chinês inicial, dois paquistaneses avançados: o suficiente para armar nações inteiras. Mas o que chocou o magistrado suíço Andreas Müller, em seu relatório de 174 páginas de dezembro de 2010, foi a interferência americana. Sob pressão do governo Bush, a secretária de Estado Condoleezza Rice ordenara a destruição de arquivos e equipamentos dos Tinners em 2006, temendo que um julgamento expusesse operações da CIA em solo neutro. “É como um quebra-cabeça. Monte as peças, e você vê o quadro inteiro”, disse Müller em coletiva. “O governo interferiu massivamente na justiça, destruindo quase todas as evidências.” (The New York Times, 2010). Os Tinners, presos por anos, escaparam de acusações formais, mas o dano estava feito: designs nucleares haviam se espalhado para seis pontos da rede, de Tailândia a África do Sul. A CIA sabotara equipamentos enviados ao Irã, mas cópias dos blueprints? Permaneceram soltas, um fantasma digital à espreita.

O eco dessa proliferação ressoou diretamente no Oriente Médio. Em 2012, enquanto o mundo acompanhava a Primavera Árabe com olhos vidrados em protestos e ditadores tombando, uma investigação transatlântica revelava um padrão alarmante: o Irã, sob sanções sufocantes, orquestrava 83 casos de contrabando de itens de “duplo uso” – tecnologia que serve tanto a reatores civis quanto a bombas. Autoridades americanas e europeias, lideradas pela Imigração e Alfândega (ICE), dobraram equipes de contraprolieração, infiltrando agentes em mais de 20 empresas fantasmas como corretores de armas. Os itens? Bombas de vácuo para testes nucleares, transdutores de pressão para centrífugas, fibras de carbono para cascos de mísseis, metais especiais para ogivas. Intermediários chineses e iranianos, operando de Dubai a Pequim, facilitavam as transações, explorando brechas em controles de exportação. Uma análise da Reuters, baseada em indiciamentos do Departamento de Justiça desde 2003, confirmou: dos 260 casos principais de exportação ilegal nos EUA, 83 envolviam Teerã, com 61 ligados a equipamentos militares e oito a aplicações nucleares diretas. “Estamos vendo as mesmas tendências: o ritmo é constante, as mesmas redes, às vezes disfarçadas”, disse um oficial sênior de aplicação da lei americana. (Reuters, 2012). Em Dubai, um hub de contrabando, outro agente alertou: “O Irã pode ter nove das dez partes para uma arma; a décima parece inofensiva. Temos que vigiar tudo.” Condenações em 2010 contra três iranianos por contrabando de bombas de vácuo e transdutores ilustravam o padrão, mas reveses como a recusa francesa em extraditar Majid Kakavand – acusado de abastecer o programa nuclear persa – mostravam as fissuras na cooperação global. O senador Robert Casey, da Pensilvânia, não poupou críticas: “Isso prova o esforço iraniano para capacidade nuclear, violando qualquer lei no caminho.” Teerã insistia em fins pacíficos, mas os fatos pintavam um quadro de determinação implacável, alimentada por redes remanescentes de Khan.
Enquanto o Irã tecia sua teia no Golfo, a Europa Oriental voltava ao centro do palco com uma fúria renovada. De 2011 a 2015, a Moldávia registrou quatro tentativas flagrantes de venda de urânio-235 e césio-137 a extremistas do Oriente Médio, todas com laços russos. Constantin Malic, um investigador moldavo de 27 anos quando iniciou as operações em 2009, liderou a caçada. Treinado pelo FBI após descobrir o esquema via um informante de falsificação de euros, Malic posava como intermediário de compradores árabes, bebendo vodca para acalmar os nervos antes de encontros em Mercedes alugadas. Em junho de 2011, ele trocou 320 mil euros por 10 gramas de urânio enriquecido – grau armamentista, oferecido a 32 milhões por quilo, com promessas de 10 quilos semanais. O vendedor, Teodor Chetrus, ex-informante da KGB com ódio ao Ocidente, insistia: “Quero um comprador islâmico para bombardear os americanos.” Prisão em flagrante, com vídeo de agentes de touca ninja algemando Chetrus. Mas os líderes, como Alexandr Agheenco – o “coronel” russo-ucraniano –, fugiam para a Transnístria, enclave separatista fora do alcance da lei moldava. Em 2014, 200 gramas de urânio russo foram vendidas por US$ 15 mil a infiltrados, com ofertas de mísseis R-29 capazes de carregar ogivas. E em 2015, além do caso Grossu, materiais contaminados com césio-137 foram achados no coração de Chisinau. “Podemos esperar mais casos. Enquanto acharem que lucram sem punição, continuarão”, disse Malic à BBC. (BBC News, 2015). O FBI elogiou as prisões como “passos importantes”, mas a “porta giratória” era real: penas leves, reincidência, líderes impunes. Andy Weber, ex-secretário de Defesa dos EUA, advertiu: “Seria profundamente preocupante se terroristas se aliassem a criminosos para armas de destruição em massa.” Testes ligavam amostras a Chernobyl, um lembrete radioativo do passado soviético.

Esses incidentes moldavos não eram ecos isolados, mas ramificações de uma hidra global. Em 2024-2025, o foco migrou para o Pacífico, onde Takeshi Ebisawa, líder da Yakuza – a sinuosa máfia japonesa –, confessou perante um tribunal federal americano um crime que unia narcóticos, armas e o átomo. Aos 60 anos, Ebisawa orquestrara o tráfico de urânio “yellowcake” (U3O8) e plutônio de grau armamentista de Myanmar, com destino ao Irã para financiar compras de mísseis terra-ar para insurgentes étnicos birmaneses. Desde 2020, ele se gabava a um agente infiltrado da DEA de ter mais de 100 kg de urânio e 2.000 kg de tório-232 disponíveis, enviando fotos de contadores Geiger bipando ao lado de pós amarelos. Autoridades tailandesas, em operação conjunta, apreenderam amostras confirmadas como “weapons-grade” por laboratórios americanos: plutônio apto para ogivas nucleares em escala suficiente. “Ebisawa traficou abertamente material nuclear, incluindo plutônio armamentista, saindo de Burma”, acusou o procurador Edward Kim. (The Guardian, 2025). Preso em 2022 por drogas e armas, Ebisawa enfrentava até 20 anos, mas sua rede – heroína e metanfetamina para os EUA, urânio para Teerã – ilustrava a evolução do crime organizado: da rua ao estratégico, financiando guerras civis com veneno atômico. A Yakuza, com tentáculos transnacionais, não era novata; agora, aliava-se a remanescentes de Khan, provando que o mercado negro nuclear é resiliente como o bambu japonês.

Esses fios – do Cáucaso ao Myanmar, de Khan aos Tinners – convergem em uma tapeçaria de vulnerabilidades que transcende fronteiras. O colapso soviético liberou estoques: urânio de reatores, césio de Chernobyl, plutônio de programas militares. Redes criminosas, como a Yakuza ou gangues russas, exploram a pobreza e a corrupção, enquanto estados como o Irã usam intermediários para burlar a AIEA. As interceptações – Geórgia em 1999, Moldávia em 2011-2015, Tailândia em 2024 – salvam o dia, mas revelam falhas sistêmicas. Penas leves na Moldávia, destruição de evidências na Suíça, cooperação irregular na AIEA: tudo alimenta o ciclo. Em 2015, Malic ganhou prêmio do FBI, mas sua unidade foi dissolvida por política interna. Em 2025, Ebisawa confessa, mas quanto plutônio ainda circula? As implicações são sombrias: bombas sujas em cidades ocidentais, aceleração de programas iranianos ou coreanos, alianças entre máfias e jihadistas. Reações globais? Alertas da ONU e Interpol, mas ações concretas patinam em geopolítica – tensões EUA-Rússia, rivalidades sino-iranianas. Como disse Gheorghe Cavcaliuc, oficial moldavo: “Sem prender os chefes e rastrear origens, o perigo persiste.” (Folha de S.Paulo, 2015).
No fim das contas, o tráfico nuclear não é só sobre material; é sobre o colapso da ordem. Da ambição de Khan em 1970 à confissão de Ebisawa em 2025, ele nos lembra que a proliferação é um vírus mutante, adaptável a sanções e vigilância. Interceptações como as de Malic ou a DEA são vitórias táticas, mas a estratégia global falha em unir nações contra o lucro atômico. Enquanto estoques soviéticos apodrecem e redes se reinventam, o mundo dança à beira do abismo radioativo. A pergunta não é se outro Grossu surgirá em um terraço chuvoso; é quando, e quem pagará o preço da contaminação.
Fontes e referências
- País da Europa Oriental se torna centro de tráfico de material nuclear – Folha de S.Paulo
- Japanese yakuza leader pleads guilty to trafficking nuclear materials from Myanmar – The Guardian
- Nuclear smuggling deals ‘thwarted’ in Moldova – BBC News
- C.I.A. Secrets Could Surface in Swiss Nuclear Case – The New York Times
- US, European officials probe Iran nuclear smuggling – Reuters
- Stolen Uranium Intercepted By Georgia in the Caucasus – The New York Times
- Nations must crack down on nuke smugglers: SAfrica – Reuters